iNFRADebate: Regulação responsiva – uma versão erudita do jeitinho brasileiro
Artigo do Presidente Luiz Afonso Senna para o site Agência Infra
Publicação:
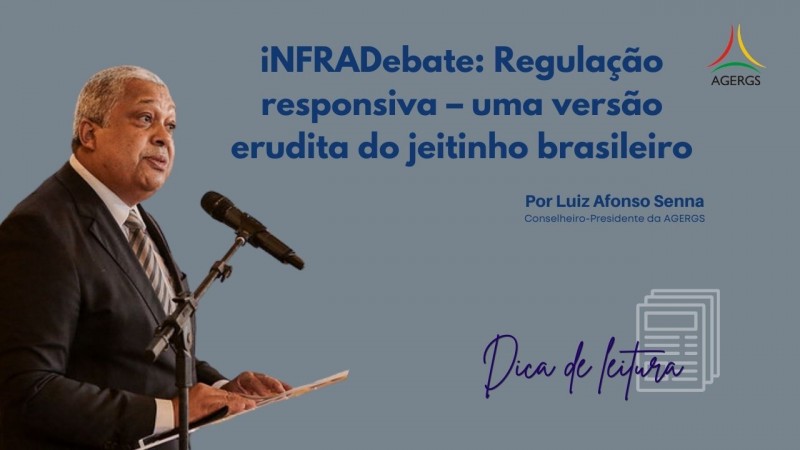
O “jeitinho brasileiro” é uma forma de navegação social plenamente estabelecida no país. Outras expressões também são utilizadas para definir o jeitinho, como jogo de cintura, molejo e capacidade de se dar bem diante de situações difíceis, notadamente em relação ao cumprimento da lei. Para tanto, as pessoas utilizam recursos emocionais (chantagem emocional) e laços emocionais e familiares para a obtenção de favores. Muito embora não seja imediatamente associada à corrupção, fica sempre muito próximo a isso.
Roberto DaMatta1 faz uma comparação da postura dos americanos e dos brasileiros em relação às leis, seu cumprimento e observância. Segundo ele, a atitude formalista, respeitadora e profundamente zelosa dos norte-americanos causa admiração e espanto nos brasileiros, acostumados a violar e a ver violadas as instituições. Para Roberto DaMatta, não se pode creditar a postura brasileira tão somente à ausência de educação adequada; diferentemente dos americanos, as instituições brasileiras foram projetadas para coagir e desarticular o indivíduo. Uma vez incapacitado pelas leis, descaracterizado por uma realidade opressora, o brasileiro deverá utilizar recursos que vençam a dureza da formalidade, se quiser obter o que muitas vezes será necessário à sua mera sobrevivência. Nos Estados Unidos, as leis não admitem permissividade alguma e influenciam fortemente os costumes e a vida privada. Em outras palavras, “pode” ou “não pode”. No Brasil, tudo leva à possibilidade do “pode-e-não-pode”. Se para os indivíduos este é o cenário, do ponto de vista das instituições acontecem fatos e situações semelhantes.
Infraestrutura é a base sobre a qual a economia acontece. Esta opera em redes, tendo como pressupostos os clássicos conceitos de economia de escala, escopo e integridade da rede. O país vem contando crescentemente com a participação privada no provimento de infraestrutura, por meio de privatizações, concessões e PPPs (parcerias público-privadas). Concessões se dão através de licitações e são contratos entre a administração pública e uma SPE (sociedade de propósito específico). Estas operam em seu próprio nome, por sua conta e risco, durante prazo pré-determinado, remuneradas por uma tarifa. Com arranjos financeiros complexos (project finance), os investidores decidem com base na capacidade de geração de recursos do projeto para garantir a remuneração de seu capital. Trata-se da gestão de um fluxo de caixa com deveres (investimentos, manutenção e operação do ativo público em níveis de qualidade pré-fixados) e direitos (tarifa), com base em um ambiente regulatório estável e uma matriz de risos adequadamente estabelecida. O período do contrato supera o período de governos (sete governos, em um contrato de 30 anos). A preocupação primordial é com garantias e proteções contra os riscos a que estarão sujeitos os participantes, que podem influenciar o sucesso de um projeto.
Dado esse quadro geral, algumas questões centrais precisam ser consideradas: O arcabouço jurídico tem sido capaz de propor e acompanhar a velocidade do mundo? A regulação efetivamente materializa a intenção econômica? A lei, seus operadores e intérpretes estão realmente equidistantes das várias partes interessadas para viabilizar economicamente o país no curto, médio e longo prazo? O investidor está confortável?
As respostas para essas questões passam necessariamente por questões contratuais em que segurança jurídica e regulação precisam ser vistas de uma forma ao mesmo tempo holística e pragmática. Sob o ponto de vista do investidor, segurança jurídica significa trabalhar tão somente com os riscos assumidos, materializados nos contratos. Nesse sentido, quanto mais estável for o ambiente político, regulatório e jurídico, maior a disponibilidade do investidor participar do esforço de prover infraestrutura em parceria com o Estado. Em caso contrário, a instabilidade política, a inconstância jurídica e a fragilidade regulatória conduzem à precificação em níveis mais elevados e até mesmo à não participação.
O professor Almiro do Couto e Silva2 mostra que boa-fé, segurança jurídica e proteção à confiança são ideias que pertencem à mesma constelação de valores. Boa-fé, em relações jurídicas, “significa que as partes envolvidas devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, em conformidade com o que se comprometeram e com a palavra empenhada que, em última análise, dá conteúdo ao princípio da segurança jurídica”. Desta forma, a relação entre o Estado e os indivíduos tem assegurada a tão necessária previsibilidade da ação estatal, bem como a estabilidade das relações jurídicas e coerência na conduta do Estado. Segundo Couto e Silva, segurança jurídica é um conceito ou um princípio jurídico que contempla duas partes, uma de natureza objetiva e outra subjetiva. A parte de natureza objetiva envolve questões relacionadas aos limites à retroatividade dos atos de estado até mesmo quando estes se qualifiquem como atos legislativos. Refere-se à proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. A parte subjetiva refere-se à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado, nos mais diferentes aspectos de sua atuação.





